Profª. Drª. Bárbara de Fátima
O que podemos concluir dos textos lidos? Que fatos se interligam entre eles denotando várias situações convergentes para um único ponto?
No texto de Foucault, ele aponta três grandes feridas narcisistas: a de Copérnico, a de Darwin e a de Freud. Para o autor, a partir do século XIX, com Freud, Marx e Nietzsche, os símbolos escalonaram-se num espaço mais diferenciado, partindo de uma dimensão do que poderíamos qualificar de profundidade e de exterioridade.
Para Nietzsche a profundidade implica na resignação, a hipocrisia, a máscara. Em Marx temos a bruma para estabelecer que não há monstros nem enigmas profundos. No caso de Freud, a sua criação topológica da Consciência e do Inconsciente, para decifrar pelo analista, tudo o que se diz, e no transcorrer da “cadeia” falada.
O inacabado da interpretação, o fato de que seja sempre fragmentada, e que queda em suspenso ao abordar-se a si mesma. A experiência da hermenêutica moderna, de que quanto mais se avança na interpretação, quanto mais há uma aproximação de uma região perigosa em absoluto, onde não só a interpretação vai encontrar o início do seu retrocesso, mas vai ainda desaparecer como interpretação e pode chegar a significar inclusive a desaparição do próprio intérprete. Há sempre no ponto absoluto da interpretação a existência de um ponto de ruptura. Esta ruptura podendo chegar à experiência da loucura. Quanto ao caráter da hermenêutica, a interpretação encontra-se diante da obrigação de interpretar-se a si mesma até ao infinito; de voltar a encontrar-se consigo mesma. Temos que a interpretação, em oposição ao tempo dos símbolos que é um tempo com vencimentos e por oposição ao tempo da dialética, que é apesar de tudo linear, chega-se a um tempo de interpretação que é circular.
No texto de Derrida pode-se dizer que ele desnaturaliza a estrutura de Lévi-Strauss (contida no próprio funcionamento da mente), ao dizer que a própria estrutura é estrutural, e ao dizer que o centro de uma estrutura (por exemplo a oposição entre hetero/homo) não é fixo, não é metafísico, é uma tentativa de conter o jogo estrutural dos sentidos, que poderia subverter esta oposição e instituir uma outra. Esta é a fugacidade dos sentidos: é a possibilidade deste jogo, desta subversão do centro, desta estruturalidade. Como diz Derrida em seu artigo:
Todavia, até ao acontecimento que eu desejaria determinar, a estrutura, ou antes a estruturalidade da estrutura, conquanto sempre ativa, foi sempre neutralizada e reduzida: por um gesto que consistia em dar-lhe um centro, em reportá-la a um ponto de presença, a uma origem fixa. Este centro tinha, por função não somente orientar e equilibrar, organizar a estrutura - não se pode, com efeito, pensar uma estrutura desorganizada - , mas sobretudo fazer que o princípio de organização da estrutura limitasse o que nós poderíamos denominar o jogo da estrutura. Sem dúvida que o centro de uma estrutura, dado que orienta e organiza a coerência do sistema, permite o jogo dos elementos no interior da forma total. E ainda hoje uma estrutura privada de todo o centro representa o impensável. (p.230)
Observa-se que Derrida também apresenta o estudo da interpretação. Segundo ele, há duas interpretações da interpretação, da estrutura, do signo e do jogo. A primeira procura decifrar, sonha decifrar uma verdade ou uma origem que escapam ao jogo e à ordem do signo, e sente como um exílio a necessidade da interpretação. A segunda, que já não está voltada para a origem, afirma o jogo e procura superar o homem e o humanismo, sendo o nome do homem o nome desse ser que, através da história da Metafísica ou de onto-teologia, isto é, da totalidade da sua história, sonhou a presença plena, o fundamento tranqüilizador, a origem e o fim do jogo.
As observações de Derrida sobre a inexistência ou a impossibilidade de existência de uma estrutura sem nenhum centro, as críticas ao pós-estruturalismo e ao niilismo como politicamente ineficiente, como impossibilitando a tomada de posições e a ação política afirmativa, baseada em sujeitos livres e racionais.
A seguinte passagem de Derrida dá muito que pensar neste sentido, e responde de certa forma a certas críticas feitas ao seu pensamento:
Virada para a presença, perdida ou impossível, da origem ausente, essa temática estruturalista da imediatidade interrompida, é, pois, a face triste, negativa, nostálgica, culpada, rousseauísta, do pensamento do jogo, cujo reverso seria a afirmação nietzschiana, a afirmação alegre do jogo do mundo e da inocência do devir, a afirmação de um mundo de signos sem erro, sem verdade, sem origem, oferecido a uma interpretação ativa. Esta afirmação determina então o não-centro sem ser como perda do centro. E joga sem segurança. Porque há um jogo seguro: o que se limita à substituição de peças dadas e existentes, presentes. No caso absoluto, a afirmação expõe-se também à indeterminação genética, à aventura seminal do traço (p. 248).
Esta seria a resposta derridiana aos críticos do seu niilismo. A aceitação do não-centro não significa a perda do centro. Ou seja, a vida não perde o seu sentido. Ele não afirma que as coisas possuem todas o mesmo valor e, portanto não possuem valor nenhum: existem sim centros, mas estes são transitórios, interpretações, que não são ser, são traços. Não devemos cair na imobilidade política por causa do niilismo, mas devemos sim buscar a interpretação ativa frente a uma realidade sem sentido metafísico, sem sentido imanente, que possibilita a criação constante de sentidos. Devemos construir identidades, e subvertê-las quando estas não mais nos servirem. Para nós, à luz desta passagem, o niilismo nos oferece uma extrema liberdade, que não é a mesma do humanismo. É anti-humanista por negar à metafísica, o ser, a linearidade. Mas não nos aprisiona na imobilidade ou nos joga numa vida sem sentido nenhum; é uma liberdade exatamente da interpretação ativa, de uma ação auto-consciente da sua historicidade, fugacidade, mas que não retira completamente o sentido da ação.
Nós não somos no sentido metafísico homens, mulheres, heteros e homos, mas estamos como poderíamos estar outra coisa. Nós somos num sentido não metafísico, imutável, essencial; somos sim num sentido niilista, de interpretação. Se um indivíduo está, por exemplo, politicamente ativo num movimento homossexual, e assumindo para si esta identidade inclusive no seu cotidiano, isto tem um sentido político. Este indivíduo está sendo ativo, está tomando uma posição na estrutura frente a outros elementos, está interpretando os signos existentes. Está inclusive, na sua militância, questionando relações de poder e desigualdades. Mas este não é o seu ser, a sua natureza. Seriam outras interpretações, outras posições que a pessoa estaria assumindo.
Nós não somos no sentido metafísico homens, mulheres, heteros e homos, mas estamos como poderíamos estar outra coisa. Nós somos num sentido não metafísico, imutável, essencial; somos sim num sentido niilista, de interpretação. Se um indivíduo está, por exemplo, politicamente ativo num movimento homossexual, e assumindo para si esta identidade inclusive no seu cotidiano, isto tem um sentido político. Este indivíduo está sendo ativo, está tomando uma posição na estrutura frente a outros elementos, está interpretando os signos existentes. Está inclusive, na sua militância, questionando relações de poder e desigualdades. Mas este não é o seu ser, a sua natureza. Seriam outras interpretações, outras posições que a pessoa estaria assumindo.
No texto de Deleuze, a reversão do platonismo significa fazer subir os simulacros, afirmar seus direitos entre os ícones ou as cópias. O problema não concerne mais à distinção Essência-Aparência, ou Modelo-cópia. Esta distinção opera no mundo da representação; trata-se de introduzir a subversão neste mundo, “crepúsculo dos ídolos”. O simulacro não é uma cópia degradada, ele encerra uma potência positiva que nega tanto o original como a cópia, tanto o modelo como a reprodução. O simulacro funciona de tal maneira que uma semelhança é retrojetada necessariamente sobre suas séries de bases, e uma identidade necessariamente projetada sobre o movimento forçado. O eterno retorno é, pois, efetivamente o Mesmo e o Semelhante, mas enquanto simulados, produzidos pela simulação, pelo funcionamento do simulacro (vontade de potência). O Mesmo e o Semelhante tornam-se simples ilusões, precisamente a partir do momento em que deixam de ser simulados.
Deleuze também estabelece a diferença entre o intempestivo e o factício. O primeiro se define como relacionado ao mais longínquo passado, na reversão do platonismo, com relação ao presente, no simulacro concebido como o ponto da modernidade crítica, com relação ao futuro no fantasma do eterno retorno como crença do futuro. Observa-se que o factício e o simulacro não são a mesma coisa. Até mesmo se opõem. O factício é sempre uma cópia de cópia, que deve ser levada até ao ponto em que muda de natureza e se reverte em simulacro. Assim sendo, esta oposição se apresenta como dois modos de destruição: os dois niilismos. O primeiro, observa-se que há uma grande diferença entre destruir para conservar e perpetuar a ordem restabelecida das representações. O segundo a dos modelos e das cópias e destruir os modelos e as cópias para instaurar o caos que cria que faz marchar os simulacros e levantar um fantasma – a mais inocente de todas as destruições, a do platonismo, que é a destruição do centro de autoridade, de hierarquia.
No mundo do simulacro de Deleuze em que a semelhança é aparente, ainda se torna, no entanto necessário explicar como é que ela surge. E para isso Deleuze recorre ao processo do eterno retorno nietzscheano e à distinção entre conteúdo latente e conteúdo manifesto. O eterno retorno é o processo no qual, sobre um pano de fundo de conteúdo latente de complexas não semelhanças, se dá aparência de uma semelhança, de uma volta do Mesmo ao Mesmo que mais não é que o pobre conteúdo manifesto de que nos apercebemos e, sublinhamos, é pobre e apenas aparente – escondendo sob si a múltipla riqueza das diferenças latentes. Aquilo que se nos apareceria constantemente neste sistema seria um conjunto de máscaras sucessivas que nos esconderiam a cada passo de desmascaramento uma riqueza subjacente. E o que retorna é em si próprio do simulacro – “o que retorna são as séries divergentes enquanto divergentes, ou seja, cada uma enquanto que desloca a sua diferença com todas as outras e todas enquanto que envolvem a sua diferença num caos sem começo nem fim.” (p. 266). É o eterno retorno que constitui o simulacro como o único Mesmo possível neste pano de fundo de diferença – mas este é precisamente um mesmo de diferença. Aquilo que não pretende é selecionar. Pretende somente manter o caos.
Deleuze termina o texto estabelecendo uma oposição entre o artificial e o simulacro. Segundo ele, o artificial ainda não é simulacro porque é cópia de cópia. A sua esperança é que ele ainda se venha a transformar no simulacro. Porque o artificial (dá-se o exemplo da Pop Art) é um momento de destruição que em última instância faz ainda parte do processo de conservação do próprio sistema vigente de representação (um pouco como o momento de negação hegeliano faz parte do funcionamento dialético do seu próprio sistema e lhe é indispensável) enquanto que o objetivo do mundo do simulacro seria “destruir os modelos e as cópias para instaurar o caos que cria, que põe em marcha os simulacros e levanta um fantasma: a mais inocente de todas as destruições, a do platonismo.” (p. 271).
Posto isto, um ponto há que conceder a Deleuze – o simulacro funciona. De fato, uma das definições mais positivas da noção de simulacro presente no texto, no sentido que é uma das que melhor o caracteriza efetivamente, é a que afirma que “a simulação designa a potência de produzir um efeito.” (p. 268). Isto significa que de fato não precisamos propriamente de um sistema absolutamente ancorado na ordem da Identidade para que aquilo que se dá como imagem funcione – e a técnica computacional moderna mostra-nos isso. No entanto, aquilo que não pode ser escamoteado é a presença de certa dependência da nossa inquirição face à lógica da Verdade. Ainda não atingimos propriamente (se é que algum dia viremos a atingir) o mundo totalmente do simulacro porque as categorias com as quais tendemos a operar as nossas distinções ainda são, em grande medida, platônicas. Isso fica provado quando nos apercebemos que aquilo que está em causa no nosso incomodo com a questão do simulacro não é uma crise da Imagem (que seria do nosso ponto de vista meramente epidérmica), mas uma crise do Real – se existem imagens sem referente real, então como distinguir o real do virtual?
Deleuze termina o texto estabelecendo uma oposição entre o artificial e o simulacro. Segundo ele, o artificial ainda não é simulacro porque é cópia de cópia. A sua esperança é que ele ainda se venha a transformar no simulacro. Porque o artificial (dá-se o exemplo da Pop Art) é um momento de destruição que em última instância faz ainda parte do processo de conservação do próprio sistema vigente de representação (um pouco como o momento de negação hegeliano faz parte do funcionamento dialético do seu próprio sistema e lhe é indispensável) enquanto que o objetivo do mundo do simulacro seria “destruir os modelos e as cópias para instaurar o caos que cria, que põe em marcha os simulacros e levanta um fantasma: a mais inocente de todas as destruições, a do platonismo.” (p. 271).
Posto isto, um ponto há que conceder a Deleuze – o simulacro funciona. De fato, uma das definições mais positivas da noção de simulacro presente no texto, no sentido que é uma das que melhor o caracteriza efetivamente, é a que afirma que “a simulação designa a potência de produzir um efeito.” (p. 268). Isto significa que de fato não precisamos propriamente de um sistema absolutamente ancorado na ordem da Identidade para que aquilo que se dá como imagem funcione – e a técnica computacional moderna mostra-nos isso. No entanto, aquilo que não pode ser escamoteado é a presença de certa dependência da nossa inquirição face à lógica da Verdade. Ainda não atingimos propriamente (se é que algum dia viremos a atingir) o mundo totalmente do simulacro porque as categorias com as quais tendemos a operar as nossas distinções ainda são, em grande medida, platônicas. Isso fica provado quando nos apercebemos que aquilo que está em causa no nosso incomodo com a questão do simulacro não é uma crise da Imagem (que seria do nosso ponto de vista meramente epidérmica), mas uma crise do Real – se existem imagens sem referente real, então como distinguir o real do virtual?
BIBLIOGRAFIA:
DELEUZE, Gilles. Platão e o Simulacro. In: A lógica do sentido. São Paulo: perspectiva, 1974. p.259-271.
DERRIDA, Jacques. A estrutura, o signo e o jogo no discurso das Ciências Humanas. In: A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 1971. p. 229-249.
FOUCAULT, Michel. Nietzsche, Freud e Marx – Theatrum Philosoficum. São Paulo: Princípio, 1997. p. 13-27.
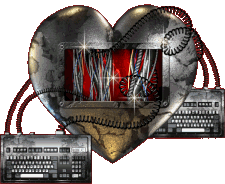





Nenhum comentário:
Postar um comentário